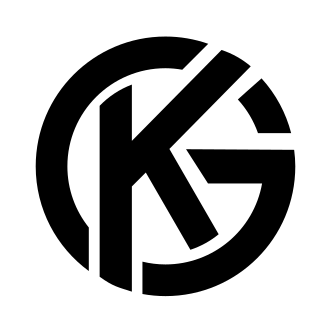Cinzeiro de Latão 26
Jornais / Dilma e eu / Bitucas / Lanche póstumo (conto) / O general Viegas / Gourmet
Cinzeiro 26, 22 de junho de 2024.
O leitor vai me perdoar qualquer nefelibatismo desta edição, pois a tive que preparar com uma semana de antecedência por motivo de viagem.
Jornais
Trabalhando em jornal, na década passada, peguei já a fase de franca decadência do meio. A redação, lugar que produziu Paulo Francis, Nelson Rodrigues e outros, já era indistinta da calçada. Mau sinal: um povo está seco quando suas instituições estão corrompidas. Em vez de garrafas de uísque na sala do editor-chefe, pululavam pelas bancadas copos plásticos com shakes que tinham gosto e aparência de vômito. A vida fitness é incompatível com qualquer sutileza da alma.
Era a época em que os jornais se entupiam de infográficos, movimento que vinha já dos anos noventa. Periódicos que já tiveram oito colunas de texto por página caindo na esparrela de encher suas folhas com figuras coloridas. É deprimente ver o jornal, feito para o texto, tentar atrair o público que não gosta de ler. Não existe tarefa mais ingrata do que escrever para quem não gosta de ler. Atrair essa gente é tratamento paliativo, que protelará a morte certa da mídia impressa em alguns anos somente.
As páginas encolheram (formato berliner, dizem os embrulhões, ou até tabloide). No meu período de jornal, se notava algo estranho: não obstante o estado comatoso do meio, havia uma espécie de histeria dentro da redação. O jovem jornalista, principalmente, se sentia a alavanca da história. É uma pena, pois é uma energia dispersada com uma formação cultural muito ruim, o que não é exclusividade dos jornalistas, mas que os deveria atingir menos. Energia que falta a funcionários de olaria ou a ajudantes de pedreiro, atividades em que seria muito mais bem aproveitada.
Do jeito que a coisa caminha, em breve as notícias serão anunciadas com dancinhas, na rede social de dancinhas.
Dilma e eu
Eu gostaria de começar o relato com a data exata tirada do meu material, mas vai me faltar. Isso porque eu tenho três pastas-arquivo com tudo o que produzi para o jornal, mas evaporou justo a matéria de página dupla que cobriu a visita da então presidente Dilma Rousseff à Embraer de Gavião Peixoto. A foto que tenho guardada me dá uma pista: 20 de maio de 2014; reminiscências na internet a confirmam. Então, em 20 de maio de 2014, num fim de manhã, a então presidente da República, Dilma Rousseff, visitou a Embraer de Gavião Peixoto, interior de São Paulo, para inaugurar a linha de montagem de um supercargueiro.
O nome do supercargueiro você encontra na internet; esta news é de memórias menores. O avião voa, e isso me deixa feliz: algo mais pesado que o ar conseguir se apoiar nele é uma das coisas mais fantásticas descobertas pela humanidade. Vamos aos acontecimentos de 20 de maio de 2014.
Nessa época, eu trabalhava no jornal e tinha uma chefe maluca. Há vários tipos de malucos: os de verdade, que precisam de cuidados médicos, os malignos, dos quais convém guardar distância, e os adoráveis, que são os que fazem as coisas da vida terem alguma graça. A minha chefe era do último tipo, mas talvez fosse muito temerária, pois tinha uma confiança tremenda em mim, atrevimento que nem eu me permito. Se ela tivesse ficado mais no jornal, era bem possível que a minha vida hoje fosse totalmente diferente e eu estivesse enfiado no jornalismo. De qualquer maneira, lhe sou muito grato pelo que ela me proporcionou enquanto trabalhamos juntos. Omito o nome porque não sei se ela gostaria de se ver citada.
Essa minha chefe me abriu várias oportunidades, uma delas foi cobrir a visita da presidente Dilma. Digo oportunidade porque não sou jornalista de formação (embora eu tenha o registro profissional na carteira), e os jornalistas gostam de se fechar na guilda; são muito ciosos da sua profissão, embora a regra seja a exercer mal. Eu era apenas revisor, função que estava inclusive “fora de moda nas grandes redações”, como um diretor do grupo proprietário do jornal gostava de me lembrar quase todas as vezes em que nos víamos. Por sorte ele ficava em outra cidade. Mas voltemos à oportunidade: no dia 19, cheguei para trabalhar, como todos os dias; eu entrava por volta das 17h30 e ia revisar a capa do caderno de classificados e as partes do caderno de cultura que já estivessem prontas. A gráfica precisava ir queimando chapas e adiantando o trabalho. Sentei-me à mesa e liguei o computador; enquanto fazia isso, a minha chefe se levantou da mesa dela e veio na minha direção.
— E aí, Géza? Tá bonzinho? Olha só: amanhã a Dilma vem na Embraer, em Gavião. Você não quer fazer a cobertura com a Daniela e com o Wesley?
Eram a repórter e o fotógrafo.
Pensei por alguns instantes. Eu tinha aula para dar, mas na parte da tarde. Dava tempo de ir e voltar com o pessoal do jornal. Topei. Passei os meus dados que o jornal precisava informar ao cerimonial da Presidência.
No dia seguinte, umas nove da manhã, o carro do jornal passou em casa. Coloquei um terno para o passeio; o tempo cinzento estava permitindo. Meia horinha de estrada e estávamos na fábrica da Embraer, um colosso, que inclui uma pista de pouso maior que muitos aeroportos. Logo na entrada, um funcionário do cerimonial da Presidência nos deu os crachás.
Dilma ia falar num palco, já preparado. A plateia, toda de funcionários da Embraer usando macacões azuis, estava dignamente sentada. A cena lembrava um pôster de propaganda soviético: a beleza dos ambientes controlados. Logo a presidente apareceu, acompanhada de três ministros, acho. O da Secretaria de Comunicação Social, Thomas Traumann, estava entre os presentes. Lembro-me bem dele porque demos uma barrigada na matéria e o trocamos por Paulo Bernardo, então ministro das Comunicações. O gabinete Dilma tinha mais ministro do que carrapato em boi magro.
A imprensa ficou em um cercado, longe de tudo. Dilma era um playmobil sobre o palco. Alguém da Embraer falou sobre o supercargueiro; falou a presidente e, por fim, um dos ministros, acho que da Defesa. A assistência de operários permanecia sem esboçar reação; apenas batia palmas quando um ou outro figurão terminava a exposição de platitudes. No cercado, a imprensa cumpria com o papel que o poder lhe destina: o de ser bicho que vive de restos. Estávamos na periferia de qualquer coisa, fechados com barreiras metálicas.
Na saída, Dilma passou do lado da gaiola apenas para virar o rosto e nos deixar falando sozinhos. Não lhe tiro a razão: jornalista é intragável, seja pela indiscrição, seja pela obviedade de perguntas manjadas. Um ministro (da Defesa?) se aproximou da cerca e respondeu algumas perguntas. Não era quem queríamos: as perguntas estavam preparadas para a presidente, não para ele. O ministro, um lambão, como todo ministro, nem sabia o que falava. Mesmo assim, a maioria do pessoal de imprensa saiu abanando o rabo, prenúncio ruim do que viria agora, do sicofantismo descarado.
Voltamos. Fui dar minhas aulas à tarde e, no começo da noite, fui para o jornal. Claro que a minha chefe me perguntou sobre o evento. Respondi:
— Dilma, de longe, é muito fotogênica.
Dilma foi o único chefe de Estado que vi sem o intermédio de qualquer meio impresso ou eletrônico; bem de longe, como um borrão. Não guardo saudades.
Bitucas
Biden, o Suplicy deles.
~~~
Como colecionador, digo que o euro é lamentável. Foi extinta mais de uma dezena de moedas nacionais: a peseta espanhola, o escudo português, o franco francês, a lira italiana, o marco alemão e por aí vai. Certo que cada país mantém um anverso nacional para suas peças metálicas, mas se perdeu a diversidade de formatos. Fora o fato de as cédulas serem as mesmíssimas para a Eurozona.
Bem, sou um saudosista incorrigível. Talvez isso tudo seja uma baboseira sem sentido.
~~~
Quando pego um voo, o que me dá mais medo não é a possibilidade de queda da aeronave, mas o escândalo nos instantes finais. Não suporto o chilique alheio.
Voltando de Buenos Aires, em 2008, dormi no avião. Acordei com palmas, sem entender o que estava acontecendo: o mau tempo estava impedido o pouso em Cumbica e só na terceira tentativa o avião conseguiu pousar. Na saída, sonado e de mau humor, apertei a mão do piloto.
Lanche póstumo
Poucas coisas são mais enfadonhas que treinamentos. Volta e meia a Finada me fazia ir a um evento do tipo. Lembro-me bem de um curso de vendas, em um hotel no centro de São Paulo, na Cidade, daqueles que já tiveram esplendor, mas hoje são apenas um amontoado decrépito de espelhos manchados e carpetes alergênicos, lar de trilhões de ácaros.
Nesse dia, a Finada me mandou ao curso. A Finada era o banco em que eu trabalhava e que não existe mais, foi deglutida por outra instituição gulosa. Eu estava feliz, pois, pelo menos, havia me subtraído a mais um dia horroroso de trabalho, sem empréstimos pessoais ou choramingos financistas.
Entre mil papagaiadas que mais lembravam uma gincana ruim de festa junina, uma mensagem no WhatsApp. Era do meu pai. “Tio Zé morreu.” Tio Zé era um daqueles parentes imprestáveis que só são lembrados entre palavrões e risadas. Morreu só, no seu casebre, inchado de pinga, mas finalmente fizera uma boa ação: me dava a deixa para escapar do treinamento e do dia de trabalho. O instrutor, tomado de um fundo de piedade, me disse:
— Vá lá. Eu aviso o banco. Aproveite e leve o lanche.
Era uma baguete com queijo, presunto e tomate mais uma caixinha de suco vagabundo. Pus tudo na mochila e comecei o caminho. Atravessei toda a cidade em direção ao Vila Formosa, mais de uma hora de trajeto entre metrô e ônibus, mais um trecho a pé, uma ladeira. Quando cheguei, o cortejo já havia saído do velório. Corri pelas alamedas de terra vermelha, entre cruzes de concreto pintadas de cal azul, rosa e branca. Garoava; o barro dos mortos se colava nos meus sapatos. No caminho, encontrei alguns parentes que voltavam. Ninguém tinha expressão de choro ou mesmo de pesar. Tio Beto contava uma piada aos irmãos, que riam com as mãos nos bolsos.
Quando cheguei à beira da cova aberta, apenas o coveiro ajeitava o monte de terra para cobrir o caixão. No fundo do buraco, um caixão de pino envernizado, solitário e fechado, o modelo mais barato à disposição no serviço funerário. O coveiro me olhou.
— Parente seu?
— Era meu tio-avô.
— Não veio muita gente.
— Eu sei.
Fiquei ali, sem ter muito que fazer. O coveiro, com alguma impaciência, esperava minha contemplação. Eu nunca tivera muita ligação com o tio Zé, beberrão e encrenqueiro, mas achei que ele precisava de uma última homenagem, para perdoar o escárnio disfarçado de condolência dos outros parentes. Tirei da mochila o pão e o suco do lanche e os joguei na cova, sobre o caixão; caíram com um barulho oco. Achei conveniente dizer algo.
— Vá em paz.
O coveiro apenas completou com uma pá de terra e um “amém”.
(2016, editado)
O general Viegas
Já escrevi sobre um atendente de telemarketing que botou um ovo e sobre um abacate possuído, mas a primeira ficção a gente jamais esquece.
Não se trata de história gloriosa. Longe disso. Eu estava na quinta série do primeiro grau — sabe lá Deus ao que equivale hoje — e tinha onze anos. A professora de geografia tinha pedido à turma um trabalho sobre os países do continente americano; alguns dados e um pequeno histórico. Era hora de cair sobre os livros e sobre a enciclopédia. Ainda não havia internet como temos hoje: a pesquisa dependia totalmente dos livros, mas um amigo que tinha computador me permitiu usar um programinha chamado PC Globe, uma espécie de atlas eletrônico, hoje rudimentar, que trazia mapas, hinos (em versões 8-bit) e dados dos países. Foi aí que começou minha paixão por hinos nacionais. Com o software levantei as informações de que precisava sobre os mais obscuros países do continente, incluindo o nome dos seus dirigentes àquela altura e um resuminho de cinco ou seis linhas sobre algum fato histórico relevante.
Cuba, Brasil, Argentina e Chile tinham notas sobre suas ditaduras, mas o resto do trabalho parecia uma sopa insossa de dados. Diante do teclado da Olivetti Studio 44 — único luxo tipográfico que eu possuía —, tive uma ideia: criar alguma passagem sobre um país apagado, coisa que não falta nesta América. Escolhi uma ilhota das Pequenas Antilhas, não lembro mais qual, e criei-lhe um episódio sangrento, em que um ditador de talhe sul-americano tomava o poder, mas era rapidamente deposto. Dei-lhe um nome hispânico: Viegas, o general Viegas. Embora o país em questão não fosse de língua espanhola.
Escrevi um pequeno relato do golpe inexistente e a reação rápida da sociedade ilhoa, o triunfo da democracia: seis linhas batidas à máquina. Entreguei o trabalho e me esqueci dele por uns dias; dali um tempo, a professora o devolveu: nota máxima. Dentro, tiques de conferência; no trecho fictício sobre a ditadura das Antilhas, um “muito bom” em vermelho.
Quando se tem onze ou doze anos, os escrúpulos estão em formação. O trabalho voltou para casa e ficou abandonado numa gaveta até uma dessas limpezas gerais que se fazem de lustro em lustro.
Dia desses, porém, me lembrei do episódio. Fora minha primeira ficção deliberada fora das redações escolares. Ainda penso se o “muito bom” da professora de geografia foi por conta de mera distração, desconhecimento ou o equivalente a uma piscadela. Agora vejo seu rosto enquanto me devolve o trabalho: um sorrisinho irônico, um risolino, a cumplicidade, como dizendo: “eu sei o que você fez, mas está convincente; parabéns”.
Depois de mais de vinte anos, sinto aquela vergonha, aquela farpa na alma. Fica aqui o mea culpa.
(2016, editado)
Gourmet
A vida é mesmo um poço de surpresas e quando você acredita ter chegado ao fundo desse poço, eis que, num cantinho, tem uma pá. E é assim que me sinto quando aparece uma nova “gourmetice”. Se o leitor não é dado a modernices, explico: gourmet é um termo basicamente aplicado à comida, engrandecendo-lhe o preço. Por exemplo, o dogão do carrinho custa xis; o hot-dog gourmet terá salsicha de carne de vaca galega, molho agridoce de pimentões da Provença, mostarda dijon e mais um monte de coisas de nomes impronunciáveis, tudo num pão sem glúten, e vai custar xis vezes três, quando não mais.
Comida gourmet é assunto despiciendo, modinha como biquíni asa-delta ou calça boca de sino, mas que começa a incomodar quando entra à força no nosso cotidiano.
Dia desses, fui ao supermercado, algo que faz parte do cotidiano de quase todo mundo. Por conta de conveniência e proximidade geográfica, fui a um supermercado diferente daquele que habitualmente frequento. Não digo o nome para não fazer propaganda e nem ganhar processo, mas é um estabelecimento que se apresenta com o conceito gourmet, embora não use explicitamente a palavra. Vejo-me no meio do supermercado com a listinha de compras, com vários itens e pão. O supermercado gourmet já quer ser diferente na localização das prateleiras: são na diagonal em relação aos caixas. Tudo muito verde, tudo muito bonito; verdura orgânica que custa as calças e frutinhas de bosque europeias. Cervejas artesanais, cumbucas cerâmicas bonitas, mas que são agora chamadas de bowls.
Os meus olhos viram o que aguentaram ver. Eu já havia pegado tudo de que precisava… mas, não: faltava o pão. Vamos à padaria do mercado. À minha frente, um barbudinho gourmet, de óculos e tatuagens, desses tipinhos tão comuns nos Jardins ou nos botecos do Baixo Augusta. Vejo os pães no balcão, divididos em duas cestas. Parece-me que ambas contêm o mesmo pão francês de 50 gramas que conheço desde que me entendo por gente, mas dois pequenos cartazes indicam que eu, do buraco de piche da minha ignorância, estava triangularmente enganado. Os cartazes diziam: “pão branquinho” e “pão queimadinho”, assim mesmo, com diminutivozinhos. De fato, olhando agora com mais atenção, os pães de uma cesta são mais brancos ou queimados, de acordo com qual cesta se olha primeiro.
Aquilo me fez mal. Lembrei-me de senhoras solteironas com que tive o desprazer de trabalhar que gastavam o sagrado momento do café defendendo o que seria melhor, se o pãozinho queimado ou o branquelo, parlamentando e justificando o gosto. À boca me veio o gosto de fel. No fim das contas, o “gourmetismo” é a reencarnação das tias velhas, da fofoca de portão, do contar vantagem.
Desisti do pão.
(2017, editado)