Cinzeiro de Latão 29
A única entrevista / Bitucas / A inglesa do Butantã (conto) / Pobreza intelectual / Instituições urbanas
Cinzeiro 29, 13 de julho de 2024.
Também estamos no Xuíter.
A única entrevista
No período em que trabalhei no jornal e tive alguma abertura profissional além da função técnica para a qual eu havia sido contratado, acabei sendo figurante (ou coprotagonista, no máximo) em algumas situações interessantes. Uma, já relatei nesta newsletter, foi quando Dilma Rousseff esteve na Embraer de Gavião Peixoto, em maio de 2014.
Era época de eleição. O jornal teve, durante aquele ano, umas páginas especiais, todo domingo, no primeiro caderno, dedicadas à tal festa da democracia. Dilma tentava a reeleição, e acabou levando, mesmo depois dos incidentes de 2013; Aécio Neves almejava tirar o PSDB do ostracismo, e acabou por acentuar a decadência tucana, e Eduardo Campos, “dissidente” do governo, se queria terceira via. Campos, ex-governador de Pernambuco, tinha sido ministro de Ciência e Tecnologia no primeiro governo Lula. No dia 20, eu tinha ido à Embraer cobrir a visita de Dilma; no dia 29, Eduardo Campos veio a Araraquara. No dia 28 à noite, a minha chefe doida (mas do bem) veio falar comigo.
— Géza, formula umas perguntas e vem amanhã, no começo da tarde, pra gente entrevistar o Campos.
Ivan Lessa diz num texto seu que entrevistar político é a coisa mais chata e triste que há no jornalismo, mas eu ainda não tinha lido Ivan Lessa. Óbvio que não seríamos apenas nós dois a entrevistar Campos, mas uma equipe do jornal, cinco ou seis. Nas páginas semanais dedicadas às eleições me fora dada uma coluna de opinião: eu tinha ganhado um peso jornalístico depois de ter sido chutado do articulismo fixo em setembro de 2013, por medo de um dos diretores do grupo de que eu viesse, eventualmente, a processar o jornal por desvio de função. Um arrombado havia feito isso naqueles tempos; logo, o medo se justificava, de alguma maneira, na cabecinha do diretorzinho. Fala-se muito na burocracia do setor público, mas, nos grandes grupos (o jornal pequeno em que eu trabalhava tinha sido anexado por um grande grupo mediático do interior paulista), a burocracia é igualmente presente e acachapante. O motivo de me levarem a sério, na verdade, desconheço: eu era (e sigo sendo) mediano. Leio os textos daquele período e os acho de uma sensaboria total; as conclusões, as deixo ao leitor.
O milagre do Google Drive permitiu que, por acaso, se conservassem as anotações que fiz para a visita de Campos. Cheguei a redigir uma versão deste texto com a reprodução integral das perguntas, mas resolvi suprimi-las. Algumas questões continuam sendo mais do mesmo, outras perderam o sentido e se tornaram quase grego passados dez anos. Redigi umas notas que poderiam virar perguntas e cinco questões completas. Foi o que consegui, às pressas, na manhã do dia 29; a preguiça tinha me impedido de o fazer antes. Era uma sopa de preocupações que eu entendia como gerais (muito água com açúcar) e questões que me interessavam mais pessoalmente, refletindo o meu conjunto de crenças políticas na época.
À sala de reuniões do jornal, onde cabiam umas dez pessoas sentadas, chegamos às 13h30 e começamos a acertar detalhes. Cada membro da “banca” trouxe um rol de questões. É claro que nem todas poderiam ser feitas, não havia tempo; Campos não ficaria três dias à nossa disposição. Decidimos então encaixar as perguntas conforme o decorrer da entrevista no-lo fosse permitindo. Uma decisão elementar.
Chegou o momento. A entrada de Campos se deu com alarido; nós, dentro do jornal, ouvíamos um burburinho indefinido vindo da rua. Corri à vidraça que dava para a rua. Pararam uma van e uns dez carros. Um bolo de gente se afinou para passar pela recepção do jornal; o corredor de acesso, entre a recepção e a redação, permitia, no máximo, duas pessoas por vez. O político em campanha já tem seu séquito de puxa-sacos e assessores fixos, que rolam com ele para todos os lados; a isso se junta o coio de puxa-sacos e oportunistas locais, o pessoal da coligação, alguns nomes do cacicado local, no poder ou não. Dependendo do candidato, essa corte de ocasião pode chegar a umas trinta pessoas. Pois foi mais ou menos a quantidade de gente que entrou com Campos no jornal.
Em alguns minutos, essa minimultidão, de quase quarenta, se acotovelava numa sala em que não caberiam vinte direito; as paredes estavam revestidas de gente. O ambiente rapidamente se aqueceu a ponto de o ar-condicionado não vencer o calor. Campos, sentado na minha frente, estava vermelho, o que destacava os seus olhos claros e naturalmente esbugalhados; o suor lhe descia pelo rosto; o clima local não estava ajudando, apesar de maio ser já um mês mais fresco na Austrália paulista. Ele, como cavalheiro, tinha um lenço à mão, que passava pela testa, de quando em quando. Trocamos um aperto de mão protocolar e nos encaramos algumas vezes enquanto a entrevista não começava. O rosto redondo e o queixinho proeminente, que lembrava uma bundinha, passavam tranquilidade: afinal, era um político experimentado. Trouxeram duas térmicas com café e também xícaras cerâmicas (nós, no dia a dia, tomávamos o café ruim, aguado, em copinhos plásticos). De vez em quando, Campos afundava o bico na xícara e ficava parecido com um pato de louça. Decorando acidentalmente as paredes, vereadores, ex-vereadores e caciques locais soltando o cheiro de sovaco que já nos era conhecido.
O ar pesava de futum e expectativas. A entrevista começa. Não consegui emplacar tudo o que eu queria, mas consegui fazer duas das minhas perguntas, que foram respondidas por Campos. É estranho entrevistar alguém numa sala cheia de olhos. Não havia bocas; apenas olhos. Ressoavam a nossa voz, dos entrevistadores, a de Campos e a respiração de alguns cupinchas mais volumosos. Em algum lugar havia um gravador (autorizado, claro), para que pudéssemos recuperar com clareza tudo o que tinha sido dito.
Campos era um homem de gestos graves e voz segura; não me lembro de o ter ouvido titubear ou gaguejar. Ele falava, e a bundinha do queixo se mexia. As pessoas se apaixonam pela certeza na voz, pelo tom rijo, mesmo que sejam os maiores disparates. Em nenhum momento Campos se voltou aos assessores para confirmar qualquer informação. Soltou vários índices e estatísticas. Se errou, errou com a convicção da certeza. Ou a com a certeza da impunidade.
Na época, simpatizei com Campos pelo fato de ele ter vindo ao jornal e se posto à nossa disposição. Foi o único presidenciável que se deu ao trabalho de vir e dar atenção a um jornal de província. Relativamente bem estruturado, mas de província.
Meses depois daquela entrevista, o avião que trazia Campos do Rio para Santos caiu sobre umas casas no Boqueirão; o de Santos, não o da Praia Grande. Chuva, pista molhada, teto baixo, desorientação espacial, aquelas coisas que costumam temperar a história de um acidente aéreo. Não houve sobreviventes entre as sete pessoas que estavam na aeronave. Morreu a única pessoa que consegui entrevistar na minha curta carreira de aprendiz de jornalista. Não entrevistei outro político para poder concordar com Ivan Lessa sobre ser essa a tarefa mais infeliz do jornalismo.
Bitucas
No outono do homem, caem folhas e caem paus.
* * *
Bolsonaro era imbrochável; Lula é priápico. Todos nos enrabando.
* * *
Férias, para muitos, é sinônimo de exotismo nos ares e nos costumes. Eu sou como Ariosto, na Sátira III, “A me piace abitar la mia contrada”. Drummond também me respalda em uma crônica fantástica.
Aliás, há momentos em que o Drummond cronista supera o Drummond poeta, mas é fato amplamente rejeitado pelos estudiosos. Termino de escrever isso e dois críticos literários fogem de carro, cantando pneus, depois de terem espatifado os vidros da minha janela com uma pedrada.
* * *
Há muita gente que se preocupa em dar conselho. Li numas “recomendações para newsletter” que “newsletter não é diário”. Outro texto, de outro autor, diz que há muita gente fazendo malabarismo intelectual, fazendo citações em outros idiomas para expor a própria inteligência.
Se formos seguir essas pontificações, fora outras, é melhor que ninguém escreva nada. No geral, escreve-se para dar a conhecer alguma coisa. O pessoal vale a pena se entrelaçado com o geral; evitar citações de autores estrangeiros é limitar-se.
É muito papa pra pouco rebanho. Deixai escrever as criancinhas.
* * *
Vi, uma vez, saindo da estação Sé, um senhor que, subindo a escada, deu uma trombetada sonora pelo entrebandas. Houve quem estacou, incrédulo, no meio da escada. Alguns autores são assim: querem impactar à força de peidos.
* * *
No mercado, passando as compras. A caixa me dá boas tardes e emenda:
— O senhor naiz fársi dutrodama isquíslus?
— Quê?
— O senhor faz parte do programa Compras Plus, de acumular dots?
— Não, moça. As minhas compras são simples. Eu pego o que preciso e pago. Não acumulo nada, a não ser anos de vida.
Toda vez que preciso tratar com estranhos, tenho a impressão de que me falam em algum idioma esquisito e preciso pedir que repitam o que foi dito.
* * *
Severino Cavalcanti, o nosso Incitatus, morreu em 2020. Só soube, por acaso, na última terça. Um capítulo equino (ou muar?) da nossa história terminou como a Apocoloquintose do divino Cláudio: a alma lhe escapuliu pelo entrebandas.
* * *
Li no InfoBae sobre um maluco, entusiasta da criogenia, que mantém o avô congelado há mais de trinta anos, no Colorado. Norueguês, chegou a ser extraditado dos EUA, onde o avô segue congelado. Inclusive existe um festival, o Frozen Dead Guy Days, que celebra o morto pelo simples fato de ele estar congelado.
Gostaria muito de ir ao festival. Deve ter picolé.
* * *
Há dois elementos centrais na vida de um homem: dinheiro e o seu genital. Por isso eles têm tantos nomes.
Não é coincidência, logo, que pau pode substituir a unidade monetária, independentemente do nome oficial, cruzeiros, reais ou guabirobas novas.
* * *
Biden está num processo nítido de tancredização. Em breve ele será substituído por dois anões, um sobre o outro, com uma máscara de borracha.
A inglesa do Butantã
Betty aprendeu inglês com o pai, que era inglês. Vivia de bicos: tradução, intérprete. Não fez faculdade; cursou um semestre de Letras na USP, mas não aguentou o pedantismo dogmático da linguística gerativista. Lia Shakespeare, Milton, Blake, Chaucer. Apesar da apatia, seu rosto irradiava quando começava a recitar “And did those feet in ancient time…”.
Tinha herdado do pai a folclórica fleuma inglesa. Não era moça de rompantes, e os rompantes a enojavam; tinha pavor a escândalos. Quando quis sexo pela primeira vez, encurralou um colega de colegial com os olhos. Quando quis casar e deixar o pai e sua administração parlamentar, casou-se. Como Rhodes, ela precisava de um continente novo.
Casou não com o mais bonito ou com o mais inteligente, mas com alguém que não a irritasse, que não exigisse afeto em excesso. Casou com um analista financeiro em começo de carreira, que não exigia muito e ainda trazia uísque bom para casa.
Amava o silêncio. De quando em quando se punha a cantar “And did those feet…”. Não era cantora, mas não desafinava. Ajudava o marido quando ele recebia visitas do exterior.
E permanece assim, amarelando-se com cigarro e café, mas feliz.
Pobreza intelectual
Pensamos que a pobreza intelectual é uma primazia brasileira. Engano grosso. Lamentavelmente, outros povos, até mesmo os considerados mais desenvolvidos e ricos, sofrem dessa lepra. E a rifampicina para esse morbo não é o dinheiro; basta ver que hoje somos a sétima economia do mundo, há crédito abundante, mas o nível geral da população continua baixo. Se é que não baixou ainda mais nos últimos trinta anos.
Mesmo nas nações ricas — isso se vê muito nos Estados Unidos, por exemplo —, o dinheiro não é panaceia. Basta ver os artistas e os arrivistas: extravagância, o gosto puro e simples de chamar atenção porque, quando estavam no estrato mediano da sociedade, eram anônimos.
* * *
Certa vez, durante uma reunião entre amigos num barzinho de São Paulo, conheci uma moça italiana. Ela cursava a faculdade de Letras e fazia intercâmbio entre nós. Naquele momento, namorava um dos colegas ali presentes, mulato. Ah, o exotismo; a curiosidade sexual dos europeus para conosco, principalmente pelos afro-brasileiros. Não é só lenda, mas deixemos o assunto para outra oportunidade.
Entabulei uma conversa na língua nativa da moça, que tinha certa dificuldade em se expressar em português. Descobri que ela era toscana, mais precisamente de Prato. E Prato não é uma cidade qualquer da Toscana: é a terra natal de Curzio Malaparte, um dos mais importantes escritores italianos do século XX. Não hesitaria eu em dizer do mundo, pois viveu o período mais crucial do século e o soube descrever e plasmar de forma sublime e cruel.
O rosto da pratense se converteu em expressão de interrogação: “Non lo conosco”. Como assim “não o conhece”? Ser de Prato e desconhecer seu filho mais ilustre?
Aqui entram os preconceitos acadêmicos. A academia italiana, assim como a brasileira, vira as costas àqueles que não cantam no mesmo tom, num afã de pasteurização ideológica.
Há preconceito contra Malaparte, fascista inconformado e comunista tardio. De que servem essas mesquinharias ideológicas se ele era escritor excelente? A academia italiana o repudia e exalta Calvino, Pavese e outros, menores, em comparação.
Tenho certeza que Malaparte não se importaria com a indiferença da conterrânea. Para quem viu a miséria material e moral de uma Itália humilhada, de uma Nápoles faminta e desesperada, o que é a miséria individual, a burrice sectária? Ninharia.
Instituições urbanas
Quando você deixa uma cidade grande e a troca por um lugar menor, percebe a diferença. A cidade média pode parecer um lugarejo poeirento se você vier, por exemplo, de São Paulo, que é a metástase do concreto.
Não é o ar, igualmente empesteado; em vez da fuligem da queima de combustível, aspira-se a fuligem da queima da cana e a poeira vermelha que o vento levanta dos canaviais secos. Não se trata das pessoas; as áreas urbanas têm o poder de promover um grau similar de idiotice, e a televisão já equalizou os costumes e o vocabulário, uma pasteurização que fortalece os micróbios. Parece que o calor do Interior aumenta o fedor, como lixo no sol.
As dimensões menores no Interior permitem ver detalhes que passam batidos na cidade grande. Você cruza com os políticos na rua; aqui eles se contentam com dezenas de milhares de reais em propinas, e não os milhões dos políticos metropolitanos.
Também as distâncias são bem menores. O luxo pode estar a quadra e meia de uma casa decadente no centro da cidade. Os subúrbios perigosos estão a uma dezena de quadras. Os espaços são mais apertados e chegam a sobrepor-se. As distâncias aos alis, porém, são percorridas sempre de carro.
Esses fenômenos também se observam com as zonas. Há aquelas mais sofisticadas, patronais, localizadas em chácaras, locais discretos e circundados pelo silêncio dos canaviais. Frequentam-nas carros de luxo; os seus condutores são gente graúda.
Por outro lado, há outros lugares que fazem jus à expressão baixo meretrício. Na última quadra antes da principal via da cidade — antigo leito de um regato usado como cloaca máxima —, há um bar e algumas casas velhas logo ao lado, que formam algo que lembra a zona de porto, daquelas que se veem nos livros e nos filmes, só que sem o porto. Condomínio de bar e puteiro, de quartos imundos de casas decadentes, de ladrilho hidráulico xadrez, pé-direito de cinco metros e forro de madeira podre.
É curioso como essas quadras à beira da pista-rio conservam a decadência de tudo aquilo que fica à beira da água, a umidade que apodrece as almas. Basta o fantasma do rio; a várzea é sempre o território do indesejado, lugar a ser evitado. Nessa várzea de avenida está a decadência, mora ali desde que o rio recebia todos os despejos da cidade. Uma rua suja como água parada.
O aspecto desse canto de mundo apodrecido é realmente impressionante. Em uma sexta à noite, por exemplo, uma noite quente — como quase todas neste agro central —, as mesas de aço, que um dia foram vermelhas, estão na rua. Nelas, caminhoneiros, operários da construção civil e alguns drogados batucam desesperadamente qualquer coisa que esteja tocando, quase sempre sertanejo universitário. A maioria dos frequentadores tem já as têmporas brancas. Ao redor das mesas cheias de garrafas, as putas. Desleixadas, cabelos armados, ombros à mostra; com sorte, alguma tem a dentição completa. Recostam-se nas paredes, dividem cerveja com os homens, riem escandalosamente; outras dançam com os clientes, num bailado meio desajeitado. A fumaça de cigarro empesteia a calçada; a lei antifumo não vale ali, naquele instante. Ninguém sabe quem é Drauzio Varella.
Muitos dos homens que vão até ali nem estão atrás de sexo. Não admitem — afinal, o homem é, grande parte das vezes, pura pose —, mas estão ali somente para beber, ouvir música ruim, dançar, fumar, como adolescentes. Pagam uma ou duas cervejas às mulheres, que agradecem com arrotos discretos e juvenis, soltados num beijinho. Um ou outro vai atrás dos serviços e, claro, acha o que procura.
E as luzes, as fumaças e o som só terminam mesmo pouco antes de o sol nascer, quando o bar baixa a porta. Os homens vão para as pensões, todas nas redondezas, e as mulheres recolhem-se àqueles quartos sujos com forro podre e janelas amplas, traços de tempos passados e desconhecidos. Não que os quartos das pensões sejam melhores, mas na pensão é possível ligar o ventilador com o dedão do pé.
O sol nasce sobre a calçada suja e silenciosa.






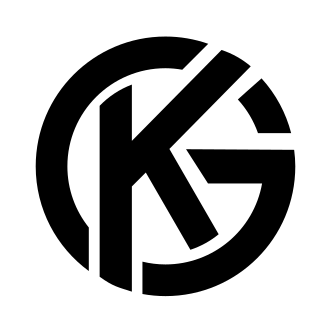
A linha entre o humor intencional e o não-intencional em 'coprotagonista' foi perdida pra nós usuários graças à ao novo acordo coprográfico de 1990.